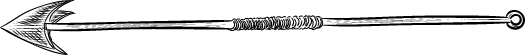Resumo
Por Renata Menezes
A sociedade é um espaço onde se travam inúmeras disputas ao longo do tempo. Segundo Marx, por exemplo, as classes antagônicas vivem em constante tensão, que tem como centro a disputa econômica, focada na detenção (ou não) dos meios de produção nas sociedades capitalistas. Na geopolítica, estudam-se os conflitos por território, já que a ocupação espacial é um ponto fundamental no estabelecimento de agrupamentos humanos.
Nesse sentido, é importante observar que algo que atravessa a economia, a geopolítica e outros campos da vida em sociedade é a cultura, que, para os pesquisadores vinculados aos Estudos Culturais, tem como ferramenta principal a linguagem. De acordo com autores como Bhabha, Bakhtin e Bourdieu, por meio da linguagem são estabelecidas relações de poder e, por isso, muitas disputas se constroem em torno do direito de falar.
É por isso, por exemplo, que a história oficial sempre tende a ser contada pela perspectiva dos vencedores. Perceba que não conhecemos a versão dos indígenas sobre o processo de colonização. Além disso, os mecanismos de censura são frequentemente aplicados como forma de sufocar discursos que destoam do poder vigente, vide a instituição de um departamento censor durante a ditadura militar brasileira (1964–1985), entre outros inúmeros exemplos que surgem a partir de regimes totalitários.
É muito mais fácil, porém, apontar esses fenômenos em momentos de exceção que estão no passado. Na atualidade, lidamos com naturalidade com as distorções narrativas do nosso dia a dia. Assim, deixamos passar batido o processo pelo qual a mídia filtra, organiza e constrói as informações que chegam até nós.

O que tudo isso tem a ver com o cangaceiro Lampião e com o suposto “serial killer” Lázaro? Eu explico em breve. Antes, porém, é necessário entender a composição do jornalismo brasileiro para compreender de qual lugar social partem as informações.
O jornalismo brasileiro e suas relações com os poderes
A história oficial do Jornalismo brasileiro tem início com a chegada da família real ao Rio de Janeiro, em 1808. Antes disso, a Coroa Portuguesa proibia a produção de materiais impressos no Brasil, com o intuito de controlar a circulação de ideias no território colonial.
Essa informação, por si só, é suficiente para observar como, desde o início, o jornalismo brasileiro está imbricado às relações de poder político e econômico, que andam de mãos dadas com o direito de falar. Retirar o direito de estabelecer casas de impressão não impedia apenas a publicação de periódicos, mas também de panfletos e livros, instrumentos importantes de difusão ideológica para a época.
Ressalto, porém, que o fim da proibição da impressão não significava a liberdade de imprensa. A partir da instituição da Impressão Régia, podiam ser impressos os atos governamentais do Príncipe Regente e, mais adiante, a Gazeta do Rio de Janeiro, que compilava informações da Europa e era destinada apenas aos membros da Corte.
O cenário muda com a independência, em 1822, posto que os ideais de construção de uma nação não eram compatíveis com a censura às ideias. Por isso, a liberdade de imprensa se instaurou e surgiram inúmeros jornais independentes, nos quais os cidadãos letrados podiam manifestar suas opiniões. Esse processo, aliás, foi fundamental para a proclamação da República, em 1889.
Essa liberdade de imprensa, porém, era muito restrita. Quando falamos em cidadãos letrados em 1822, temos que a maior parte da população está distante da cidadania e muito mais do letramento. Em primeiro lugar, porque a escravidão ainda era permitida, o que excluía a população negra da categoria “cidadãos”, já que apenas homens livres estavam incluídos nela. Por outro lado, o acesso ao letramento ainda era um privilégio das classes abastadas, o que quer dizer que havia muitos homens que eram livres, porém analfabetos.
Assim sendo, vemos que, mesmo com a liberdade de imprensa, o jornalismo brasileiro ainda estava limitado a uma parcela muito pequena. As ideias que circulavam nos periódicos eram provenientes de uma elite patriarcal, detentora de poder político, econômico e cultural. Não existia a possibilidade de participação de mulheres, negros, pobres ou indígenas nesse processo.
Esses mesmos critérios, aliás, determinavam a participação política. Mesmo após a proclamação da República, apenas homens livres e alfabetizados tinham direito à candidatura e ao voto. O sistema político era caracterizado da mesma forma que o direito à voz na imprensa, de modo que os mesmos atores estavam nos palanques e nos editoriais.
Ao longo desses últimos dois séculos, a escravidão foi abolida, mulheres conquistaram direito à participação política e a alfabetização se ampliou no país. No entanto, mesmo com toda a modernização sofrida com o tempo, o jornalismo brasileiro ainda carrega em si traços de sua gênese. A grande mídia ainda se encarrega de veicular pontos de vista elitistas, que privilegiam narrativas sob a mesma perspectiva de 200 anos atrás.

Observamos que os grandes conglomerados da mídia brasileira são controlados por famílias que perpetuam seu poder década após década. Esse poder, por sua vez, refere-se tanto à política quanto à economia, já que existe uma forte relação entre a mídia, partidos e grandes empresas. Com isso, a ideologia propagada massivamente nas páginas de jornais impressos, eletrônicos e nas rádios atende aos interesses dessas elites políticas e econômicas e ajudam na manutenção da estrutura social, que inclui discursos machistas, classistas, racistas e homofóbicos.
Sensacionalismo: o encontro entre jornalismo, polícia e judiciário
Por definição, o sensacionalismo é o uso de algumas ferramentas narrativas, como o exagero nas descrições, para evocar sensações. Ele pode ser aplicado em gêneros literários e audiovisuais, como no terror ou no suspense, mas também é largamente aplicado no jornalismo para atrair a atenção do público para um determinado assunto.
Assassinatos, latrocínios, estupros, sequestros, assaltos, tráfico de drogas são alguns dos assuntos mais comentados pelo jornalismo sensacionalista.
São inúmeros os casos de crimes explorados à exaustão pelo jornalismo sensacionalista brasileiro. Talvez você se lembre de ter acompanhado o sequestro da jovem Eloá, transmitido ao vivo enquanto a mídia negociava com seu algoz e que teve fim trágico. O sequestro ao ônibus 174, no Rio de Janeiro, é outro exemplo icônico da atuação dos jornais na midiatização de um crime. Ambos os casos, é claro, atraem a atenção de qualquer pessoa pelo modo como a vida pode ser posta em xeque repentinamente. Mas os repórteres deveriam mesmo estar ali?
Os efeitos do jornalismo sensacionalista vão além do aumento da audiência. Ele é, em grande parte, responsável por fenômenos como o pânico moral e o racismo, que ajudam a manter de pé as estruturas de nossa sociedade. Perceba, por exemplo, que a maior parte dos “bandidos” expostos nessas situações são homens negros e de classe baixa.
Em Maceió, por exemplo, ficou marcado o caso de Sandrinho (Alessandro Domingos), um jovem morador do Benedito Bentes que assassinou três rivais e se tornou símbolo de criminalidade depois de fugir do presídio Cirydião Durval. A partir da fuga, passaram a ser atribuídos diversos outros crimes ao rapaz de 18 anos, que ficou conhecido nos jornais como o “terror de Maceió” e se tornou motivo de pânico até a sua morte, em uma troca de tiros com a polícia.
Em contrapartida, criminosos brancos são tratados como jovens infratores ou, no máximo, suspeitos e até têm sua identidade preservada em grande parte dos casos. Você já ouviu falar em Max Rogério Alves, Tomás Oliveira de Almeida, Antônio Novély Vilanova ou Eron Chaves de Oliveira? Em 1997, eles foram condenados por homicídio triplamente qualificado por atear fogo no indígena Galdino Jesus dos Santos.
Sem a associação de suas imagens ao assassinato, todos viraram a página e estão livres, ocupando cargos públicos. O mesmo não ocorre com tantos jovens negros de periferia que, ainda que sem condenação pela justiça, já estão fadados à associação entre a sua pele e a criminalidade.
Dessa forma, olhando atentamente para o modus operandi do jornalismo sensacionalista, vemos que ele é marcado pelo casamento entre polícia, mídia e judiciário. Os limites entre as três instituições são pulverizados para dar origem a narrativas que, ao mesmo tempo, investigam crimes, apontam culpados e determinam sentenças.

Ressalto que as três instituições podem e devem trabalhar em conjunto, sem, porém, confundir suas funções. O papel das polícias é de investigação criminal, cabendo ao judiciário a função de julgar e determinar a pena caso o/a suspeito/a seja considerado/a culpado/a. À mídia, então, caberia a divulgação dos processos sem, no entanto, fazer juízo de valor. É por isso, por exemplo, que aprendemos na faculdade que todos devem ser tratados como “suspeitos”, ainda que aconteça a prisão em flagrante, já que somente após a conclusão do julgamento um cidadão pode ser considerado culpado (ou não) por um crime.
O que acontece na prática, no entanto, é o embolamento de todos esses processos. Muitas vezes, antes mesmo da polícia chegar ao local do crime, a mídia já está a postos conversando com populares que apresentam suas próprias versões. A aplicação da pena também pode ocorrer antes do indivíduo chegar ao tribunal, por meio da execução do suspeito pela polícia, ainda que a pena de morte seja um ato inconstitucional. Além disso, mesmo aqueles que garantem seu direito a julgamento podem ser declarados culpados antes de chegar ao tribunal, especialmente nas páginas de jornais.
Tudo isso dá origem ao chamado populismo penal, que explora o medo e a sede por justiça de uma população acometida pela violência urbana para colocar em prática projetos políticos racistas e classistas. Inflamam-se os nervos da população e rapidamente são apontados culpados, ainda que a inocência presumida seja um direito garantido por lei.
Em contrapartida, gera-se um clamor popular em busca de uma resolução rápida dos crimes. Afinal, se o culpado já foi descoberto, por que ele ainda não foi preso ou, pior, morto? Isso certamente influencia no fato de que há hoje mais presos preventivos do que condenados em Alagoas, por exemplo, o que nos mostra que boa parte da população carcerária sequer foi julgada. Além disso, a espetacularização exaustiva dos crimes e sua frequente associação à população pobre leva à banalização do assassinato de negros. Não é à toa que vemos chacinas acontecerem nas periferias sem consequências para os policiais que as executam.
Discursos que defendem que “bandido bom é bandido morto” são proferidos livremente, ainda que estejam em desacordo com o direito à vida garantido pela Constituição de 1988. Além disso, não é incomum ver comemorações diante de assassinatos de suspeitos, como aconteceu com Lázaro ainda hoje.
A construção narrativa em torno de Lázaro e Lampião
Se você chegou até aqui, já acompanhou a discussão sobre o poder da grande mídia de distorcer narrativas e privilegiar os pontos de vista das classes dominantes. Agora, finalmente, começo a explicar por que Lázaro e Lampião podem ter mais em comum do que parecem.
Lampião foi conhecido por ser líder do principal bando cangaceiro que atuou no Sertão nordestino na primeira metade do século XX. Em sua bagagem, o bando carrega inúmeras acusações de assassinatos, estupros e sequestros. Segundo as narrativas da época, eles eram o terror das pequenas cidades, onde passavam causando verdadeiro estrago.
Não pretendo aqui verificar se as acusações eram válidas ou não. Afinal, mesmo à época, isso deveria caber ao judiciário. Na verdade, me interessa observar como a atuação do bando foi largamente explorada pela mídia, que construiu narrativas sobre o banditista por meio de sensacionalismo, recorrendo ao medo como estratégia para consagrá-lo como um bandido perigoso que deveria ser aniquilado.
Apesar das limitações tecnológicas da época que, é claro, não permitiam o acompanhamento em tempo real da caçada a Lampião, as notícias sobre suas ações corriam Brasil afora. Pipocavam informações sobre seu suposto paradeiro e sobre os assassinatos que promovia por onde passava. A cada nova acusação, reiterava-se o caráter maléfico de Lampião, que era tido como uma vergonha para a nação e, mais ainda, para o Nordeste, já que o cangaço estava cada vez mais atrelado à região. Com isso, o preço a ser pago pela sua captura era alto e o momento de sua morte foi celebrado com a exposição itinerante das cabeças de Lampião, Maria Bonita e de seus companheiros, que foram levadas para diversas cidades nordestinas.
No entanto, relatos populares mostram que, no trato pessoal, Lampião estava longe de ser um brutamontes. O pernambucano de Serra Talhada era um católico fervoroso, temente a Deus, admirador da cultura popular, preocupado com estética, que sabia costurar e bordar e apreciava noites de festa. Supostamente, sua associação ao banditismo se dá depois que jura vingança pela morte de seu pai, que foi assassinado pela polícia em um confronto por disputa de terras. Assim, para muitos, Lampião era, na verdade, um Robin Hood do Sertão (como foi chamado pelo The New York Times, em 1931), alguém que tentava fazer justiça com as próprias mãos perante as desigualdades, já que seus ataques eram, em geral, direcionados a famílias poderosas.

Qual das duas versões sobre Lampião era real? É possível — e até provável — que ambas tenham fundamento. Afinal, contrariando a simplificação da dicotomia, ninguém é completamente bom ou mau.
Com isso, estabeleceu-se uma leitura deslizante sobre o cangaço: por um lado, os setores mais conservadores da sociedade o condenavam e, por outro, havia uma louvação do movimento, tido como representante da bravura nordestina. Assim, a figura exótica de Lampião atraía não somente adversários, mas também admiradores.
Suas rotas de fuga, aliás, não eram muito diferentes das utilizadas por Lázaro. Lampião usava a seu favor o conhecimento que tinha da geografia local para despistar a polícia, além de contatos estabelecidos com moradores da região, que, seja por medo, admiração ou aliança, o ajudavam a fugir. Nada disso, no entanto, foi suficiente para livrá-lo da execução pelas mãos da polícia e da celebração de sua morte.
Como Lampião, Lázaro foi mais um alvo do sensacionalismo. Descrito como “serial killer”, apesar de haver indícios de que trabalhava como assassino de aluguel para latifundiários, ele foi exposto exaustivamente pela mídia, que especulava suas motivações e construiu uma narrativa de monstruosidade ao seu redor. As buscas foram divulgadas em tempo real, com direito a uma estratégia multiplataforma, que envolveu até a geração de conteúdo no Tik Tok. Tentaram até mesmo associá-lo às religiões de matriz africana, que seriam a motivação para os assassinatos, reiterando a criminalização e mistificação dessas religiões, uma herança racista e colonial, reforçada hoje pelas religiões neopentecostais, que demonizam as práticas umbandistas e candomblecistas.
O fim dessa história aconteceu hoje, dia 28 de junho, e não fugiu à regra: Lázaro foi cercado por policiais e morreu durante a troca de tiros. Seus crimes não foram elucidados e jamais haverá resposta para a sua provável ligação com os latifúndios. Seu corpo morto logo estava exposto em inúmeras redes, bem como a comemoração dos policiais responsáveis pelo cerco, e milhares de pessoas vibraram com o seu assassinato. Assim, a história de Lázaro tem o mesmo fim de Lampião, Sandro Barbosa do Nascimento, Alessandro Domingos e tantos outros que não tiveram direito a passar por um julgamento para responder por seus atos. Diferente do que muitos podem esperar, todos esses assassinatos não resolvem nenhum dos problemas que enfrentamos diariamente. Pelo contrário, servem como reforço e ajudam a perpetuar as estruturas.