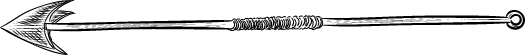Recentemente, nove jovens foram mortos após uma trágica intervenção policial, em uma festa de funk no bairro de Paraisópolis – São Paulo. “Trágica” aqui é a palavra empregada para predicar o emaranhado de acontecimentos que se entrecruzaram naquela fatídica noite. A intervenção em si pode receber caracterizações ainda mais intensas. Criminosa? A polícia é o braço armado do Estado, esse disforme, idealizado, aquela encarnada, incorporada, afinal nada de estranho soa a expressão corriqueira “corporação policial”.
Como a polícia é o Estado, em sua mais pujante expressividade, ela não poderia cometer crimes, esses seriam perpetrados por indivíduos que – pelos mais variados motivos – podem, eventualmente, exceder-se em uma ocorrência ou outra. “O exército não comete crimes”, já disse o mandatário da república em outra das tragédias já inseridas na cotidianidade da vida mundana; “the king can do no wrong”, diziam originariamente as monarquias autoritárias.
Trata-se do discurso imunizador por excelência, a introjeção da camada de legitimação que, como um réptil, ao se ver em ameaça, sacrifica suas extremidades, ciente de que serão regeneradas, culpando exclusivamente o membro abandonado pelo dano, como se não compusessem o mesmo ser.
Não, não se trata de um desvio, o que ocorrera em Paraisópolis e em mais incontáveis situações pelo país, é a execução em curso de uma necropolítica que movimenta as engrenagens da macropolítica desde seu nascedouro. Achille Mbembe (2018) nos apresenta esse termo como ferramenta de análise para compreendermos melhor determinados fenômenos desde a perspectiva colonial/periférica. Para o filósofo camaronês, a necropolítica seria uma espécie de contraface de um biopoder em curso desde meados do século XIX, a partir de certa reconfiguração política. Foucault (2010, p. 202) afirmava, em seu curso de 1976, que
[…] uma das mais maciças transformações do direito político do século XIX consistiu […] em complementar esse velho direito de soberania – fazer morrer ou deixar viver – com outro direito novo, que não vai apagar o primeiro, mas vai penetrá-lo, perpassá-lo, modificá-lo, e que vai ser um direito, ou melhor, um poder exatamente inverso: poder de “fazer” viver e de “deixar” morrer.
Ou seja, a partir de um rearranjo das peças do jogo político dos países centrais, movidos precipuamente por questões de cariz econômico, o soberano não mais é o que meramente ordena execuções ou “permite” que os demais possam viver em paz; o exercício de seu poder passa a se capilarizar e a incidir não mais tão somente por sobre indivíduos, mas sobre toda uma população. Não há biopolítica se não há a gestão da vida de uma população.
Ocorre que, para que uns vivam mais e melhor, alimentem-se bem, gozem de boas condições de saúde, de vida etc., outros precisam ter tudo isso minguado até a pura sobrevivência; uns vivem, outros são largados à própria sorte. Essa lógica se visibiliza no próprio racismo, tema de fundo do presente texto.
O racismo é formado nesse âmbito (o racismo em sua forma moderna, estatal, biologizante): toda uma política da população, da família, do matrimônio, da educação, da hierarquização social e da propriedade, e uma longa série de intervenções permanentes ao nível do corpo, das condutas, da saúde e da vida cotidiana receberam então sua cor e sua justificação da preocupação mítica por proteger a pureza de sangue e de fazer triunfar a raça (FOUCAULT, 2010).
Se retomarmos de forma extremamente sumária a história dos países do sul, perceberemos que a raça evidentemente subjugada fora a negra, utilizada por séculos como mão de obra escrava para a produção de excedentes para um capitalismo que ainda engatinhava e que – a partir da insustentabilidade (econômica, sobretudo) do modo de produção escravagista – fora inserida em uma franja marginal da configuração social, nem excluída ao ponto de não cumprir um papel nesse novo jogo de forças, nem incluída ao ponto de conseguir usufruir com a mesma facilidade dos desejos de consumo que um novo capitalismo cafetão (ROLNIK, 2019) começava a difundir.
A solução, não precisamos de muito para adivinhar, viria a galope no dorso do cavalo-de-guerra do modo de produção capitalista: o direito penal. Criminalizando a capoeira outrora, ou tentando fazê-lo com as festas de funk, a lógica de fundo é a mesma: é necessário controlar os extratos potencialmente revoltosos da população e quão mais ameaçadores sejam, mais intensa será a retaliação. Em outras palavras, a guerra e todo um novo léxico belicoso é incorporado em discursos oficiais e utilizados para legitimar um verdadeiro genocídio de populações negras.
A noção de biopoder será suficiente para designar as práticas contemporâneas mediante as quais o político, sob a máscara da guerra, da resistência ou da luta contra o terror, opta pela aniquilação do inimigo como objetivo prioritário e absoluto? A guerra, não constitui apenas um meio para obter a soberania, mas também um modo de exercer o direito de matar. Se imaginarmos a política como uma forma, devemos interrogar-nos: qual é o lugar reservado à vida, à morte e ao corpo humano (em particular o corpo ferido ou assassinado)? Que lugar ocupa dentro da ordem do poder. (MBEMBE, 2017, p. 108)
Assim, quer seja deixando morrer, por não depositar sobre eles os esforços políticos necessários para fornecer-lhes a condição digna de viver, ou por uma política de “higienização” de células potencialmente revoltosas através da execução direta (o que é apresentado como desvio – porque de outra forma não conseguiria preservar a frágil camada democrática que busca predicar o estado brasileiro) é, de fato, uma política calcada em um racismo estruturante (ALMEIDA, 2018), que, por óbvio, não se dá desde um registro consciente do agente público, mas do engendramento das condições para que o emprego das políticas públicas não possam se dar de outra maneira.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Sílvio. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018.
FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2010.
MBEMBE, Achille. Políticas da inimizade. Lisboa: Antígona, 2017.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo, sp: n-1 edições, 2018.
ROLNIK, Suely. Esferas da insurreição: notas para uma vida não cafetinada. São Paulo, 2018.