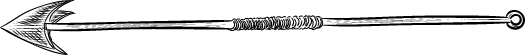As cortinas sequer abriram e quatro personagens já aparecem mandando dedo em direção ao público. É também nesse primeiro minuto que centenas de gargalhadas são arrancadas em um teatro lotado, ainda sem nenhuma palavra do elenco.
Fenômeno de público, Romeu e juli…eeita?!? inaugura nos palcos em 2005 já alcançando duas sessões e irrompe levando mais de 250 mil pessoas para as plateias durante cerca de três anos de apresentação. Tão rápida quanto a popularização, foram as críticas levantadas pela própria classe artística e intelectuais no Estado que questionavam – a todo tempo – se valia mesmo “tudo” para se ter público em Alagoas.
As memórias são do ator Christiano Marinho, que também integrava a equipe e hoje analisa como o segmento identificado como “escracho” representou um marco de abertura do grande público ao teatro local. Ao mesmo tempo, conta como essa mesma super-exposição situou a peça como alvo do que, hoje, podemos chamar de “cancelamento”. Besteirol e palavrão se reúnem a diversas referências de situações cotidianas em Alagoas, em uma sátira tão livre quanto possa do clássico de William Shakespeare.
Até encontrar essa fórmula, porém, Christiano relata como vivenciou os perrengues típicos de trabalhadores da arte cênica que, atuando sem qualquer incentivo, atravessavam a consequente situação da falta de visibilidade. “Comecei a fazer teatro em 1993, em uma época onde as pessoas não assistiam peça local, porque tinha muito preconceito. As pessoas só iam ao teatro quando vinham de fora. Fiz muita peça para dez pessoas, para família, amigos. A gente fazia por amor à arte, porque a gente nasce e está no sangue. Não tem jeito”, relata.
Foi então que apareceu um espetáculo chamado “Cinderela, a História que sua Mãe não Contou”, de Recife. “Foi um marco no Nordeste e conseguiu levar multidões ao teatro. Eu já tinha experiência, conhecia Regis de Souza, Glauber Teixeira – falecido diretor maravilhoso – e aí disse ‘vamos fazer? Na época, o grande marco que existia era a Farinhada, grande espetáculo alagoano que levou prêmios, teve lei de incentivo”, relata.
No entanto, foi sob a inspiração da Cinderela que veio à tona o roteiro de um certo Romeu e uma certa Julieta, com sobrenomes de políticos locais, e moradores das comunidades de Ouricuri e do ‘Subaco da Ovelha’. Ganharam as plateias no Estado inteiro. As maquiagens exageradas representando a estética grotesca, o tom exagerado contando os detalhes do cotidiano. A comédia não poupava desde a menção às famílias oligárquicas e as feridas sociais anestesiadas pelo riso como também os escrachos que atualmente visualizamos com olhares mais atentos. O reconhecimento acontecia e a recíproca fazia todo o sentido.
“Posso dizer que a partir daí a minha carreira mudou. Se mudou a ideia de que fazer teatro não dava público, porque foi uma loucura, um fenômeno de fato. Lotou teatro, fazíamos três sessões em um dia. Fazíamos temporadas em que três semanas antes não tinha mais ingresso. Isso nunca aconteceu. Foi um ano de ingressos esgotados”.
Orgulho e Preconceito
Para o ator, hoje é possível visualizar uma série de elementos. “É tudo muito claro na minha cabeça. Estávamos formando público naquela época e foi gigantesco para o teatro local, mas aí as pessoas têm esse preconceito”, comenta.
Marinho explica a situação a partir de tetos de público. “Levamos o teatro a lugares que jamais alguém teve acesso na vida. Em Batalha, Coruripe e também em cidades que muita gente mal sabe que existe. Ginásios de futebol. Quando lembro, dá um nó na garganta. A gente ia de van e montava os cenários, mas o público estava lá dando volta no quarteirão. E vejo que a gente fez o que o público queria. Até hoje tem gente que diz que pisou no teatro pela primeira vez por causa da gente”.
São diversos os ‘troféus’ acumulados. Muitos expostos em números, sessões lotadas, filas dando voltas. Outros caracterizados por histórias marcantes. “Tinha uma senhora que assistia meus espetáculos e sempre queria me abraçar e dizer que amava muito meu trabalho. Falou que o filho dela tinha morrido e ver o espetáculo vinha sendo uma salvação para ela”, relata.
Sem conseguir prosseguir com as conversas, em meio ao turbilhão de sessões, foi apenas anos depois que conseguiu ouvir a história da espectadora fiel. “Quando estava indo embora para São Paulo, anos depois, fui a um programa de televisão de Wilson Junior e ela contou a história. O filho que tinha falecido era muito parecido comigo e, com o espetáculo, ela acabava vendo em mim as características do filho. E, por ser humor, isso lhe dava alegria”, conta. “Isso me fez refletir muito sobre nossa responsabilidade enquanto artista, pensando no modo como as pessoas muitas vezes projetam suas vivências e suas relações no que veem lá no palco”, diz.
Os relatos emocionantes misturam-se, entretanto, com outras situações com as quais não se lembra com tanta alegria. “A gente escutou pessoas da classe dizerem que não contribuímos com nada e aí vem esse lado negativo. Muita gente da classe artística era contra, porque tinha palavrão no espetáculo, mas era aquilo que naquele momento, naquela época, as pessoas queriam ouvir”, relembra. “Uma situação muito nítida que lembro foi em uma entrevista com um jornalista que também é inclusive professor universitário. Ele fez as perguntas e, no fim, colocou algo como se só estivéssemos fazendo o teatro do humor porque dava muito dinheiro”.
Marinho reforça que, ao falar de abertura do mercado, menciona o lugar de encontro com o público, mas entende as críticas. “Hoje a gente entende que era aquela coisa do ‘cancelamento’. Não existia internet e a gente acabava sendo cancelado pelos próprios artistas e intelectuais. O teatro local não tinha muito público e, de repente, vem um grupo que não faz um ‘teatrão’, algo muito elaborado; e aí eles pensam ‘eles que falam palavrão lotam’. Fomos bombardeados pela classe artística na época”. conta.
Para Christiano, algumas situações explicavam o “boom” dessa popularização. O entendimento de que as pessoas buscavam o humor no teatro – o que foi possível ao ver o sucesso de Cinderela. Depois vem o DVD, que foi produzido e distribuído pela internet – inclusive por meio de pirataria. Por fim, o antigo e sempre eficaz boca a boca. “O fenômeno aconteceu e, a partir daí, não paramos. Fomos a várias cidades. Daí pergunto: ‘o que foi isso?’ A gente fez o que o público queria na época”.
Foi nesse período que, segundo Christiano, o formato popularizou “E foi parar na televisão. Nosso público, que já era grande, virou popular, porque na época o público na TV Pajuçara era periferia, povão. Agora, você imagine, o teatro era uma coisa elitizada e a gente quebrou o paradigma fazendo com que teatro fosse uma coisa popular. As pessoas do Vergel do Lago, da Grota do Cigano, do Reginaldo foram todas assistir Romeu e Juleita. As coisas não foram pensadas. Aconteceram naturalmente.”, conta.
“Fomos percebendo que ia muita gente do Vergel. Fazíamos piada do Vergel e ia um grupo de lá. Falávamos do Benedito Bentes, de uma pessoa que pegou o “Ufal-Ipioca”, (linha de ônibus conhecida por circular em muitos bairros de Maceió) e todo mundo que pega esse ônibus já se identificava. Acho que um sabia e falava para os outros e vinham. De repente vimos que tinha a periferia toda. A gente perguntava, tem alguém da Ponta da Terra? do Poço? do Benedito Bentes? Uns 20 levantavam. A gente perguntava ‘Alguém do Aldebaran?’ e ninguém levantava. Depois algumas pessoas gritavam de brincadeira e a gente respondia ‘Agora seja’.”, conclui.
Com a brincadeira dando certo, os patrocinadores foram chegando. Cristiano conta que, a essa altura, ganhava desde feira em supermercado à mensalidade em academia. “A gente era blogueiro sem internet, ganhava roupas. Tínhamos recebidinhos e sofríamos o cancelamento também. Que coisa louca fazer essa comparação com os dias atuais”, reflete.
Integrantes das classes mais elitizadas não marcavam presença. Ou melhor, estavam lá, mas escondidos. “Isso é fato. Teve uma vez que um prefeito de uma cidade foi e não tinha mais ingresso. Ele queria quebrar tudo. Teve outro episódio com um desembargador. Sabíamos que tinha gente mais elitizada. Não queriam dizer que estavam indo para lá, mas não aceitavam que não tivesse ingresso se viessem de última hora”.
O riso e a arte, a crítica e o cancelamento
Lançado em 2012, o documentário O Riso dos Outros, de Pedro Arantes, apareceu como o sinal de alerta sobre a indústria do humor que reproduz preconceitos e que agride uns enquanto fazem outros rirem. Inserido mais especificamente no mundo do Stand Up Comedy, o longa-metragem entrevista uma série de humoristas e artistas sobre as piadas difundidas nesses tipos de show e como elas afetam ou reforçam estereótipos contra as maiorias oprimidas. Faz uma crítica a quem brinca com o “politicamente incorreto” e até se orgulha disso. Pode ser assistido integralmente clicando aqui.
Necessário, o Riso dos Outros representou quase um marco para debates que já vinham se estendendo entre ativistas, movimentos sociais, academia e até mesmo sobre os palcos. São diversos os espaços que se propunham a criticar o humor que hostiliza. Eles não param na crítica, no entanto, e pensam proposições. “O humor, tendo a capacidade de perpetuar certos preconceitos, ele também tem a capacidade de quebrar certos preconceitos, ou de ridicularizar certos preconceitos”, expõe o cartunista André Dahmer em um dos trechos do doc.
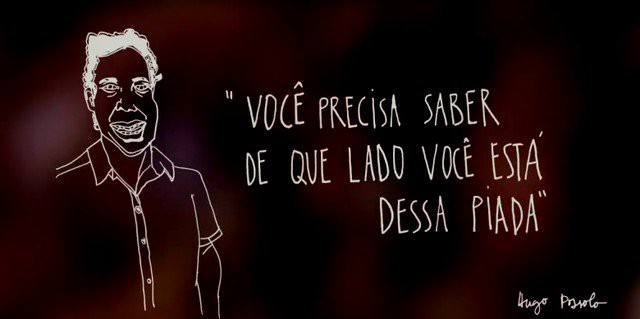
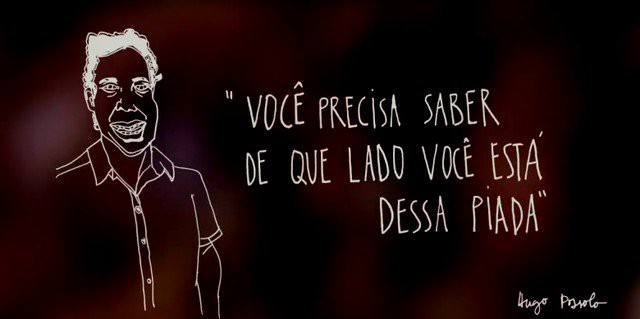
A linha tênue de fazer escracho sem escrachar quem já vivencia hostilizações rotineiramente é uma matemática necessária e uma crítica que vai para além da formalidade. Entretanto, segundo Marinho, não era esse o debate feito em 2005, quando o espetáculo lotou os palcos. Ao invés de críticas específicas, o ‘cancelamento’ se dava pelos martelos batidos sobre a modalidade tratar-se ou não de ‘arte’. “As críticas de fato se restringiam a questão de ter muito palavrão e também de se o escracho é ou não uma arte, além dos constantes apelos comerciais. Hoje minha visão é outra. Por que o palavrão incomoda tanto? Outra coisa que me pergunto é para que a arte existe. O conceito é muito aberto. Cada vez que passa o tempo, vejo que o que a gente fez foi arte, sim”, conta.
Entretanto, Chris Marinho pondera que hoje não traria à tona algumas piadas. “Confesso que, quando fizemos uma reapresentação em comemoração aos 13 anos, algumas coisas não se encaixavam mais, porque o mundo muda e as coisas mudam. Então muitas coisas não eram mais confortáveis para a gente fazer, mas, na época do primeiro lançamento, se fazia. O que eu fiz tinha que ser feito daquele jeito. Hoje não dá para fazer certas brincadeiras e concordo obviamente”, relata, referindo-se a piadas homofóbicas e preconceituosas. “Qual a função do humor? Brincar do dia a dia, fazer a crítica social, política. Humor é ciência humana. A gente pode falar coisas fortes através do humor e a pessoa receber de forma diferente. É uma crítica, faz refletir, mas de forma leve. Por isso, obviamente que sabemos hoje que não se faz piada com questão racial ou com gordofobia, mas as críticas que recebíamos naquela época nem eram sobre isso, mas sobre o palavrão, embora meu personagem nem tivesse tantos assim”.
O humor foi permanecendo, mesmo quinze anos depois no teatro local e nacional. Seja recebendo as críticas necessárias, seja criticando enquanto provoca risos amargos de quem é atingido em cheio pelas questões sociais. Seja trazendo o riso como uma cura sem crueldades, um besteirol ou um palavrão no meio de uma situação sem sentido. “Recebemos todas as pedras e depois vieram outros sucessos, como Zezilda, e a apresentação de algumas drags. Começou a ter mercado. De tal modo que a maioria das pessoas hoje quer ir ao teatro para rir. O Brasil todo é assim”.
Christiano também conta que teve a vida mudada, ao ser conhecido como ator sem sequer fazer novela. “Tive que ir embora e até dar um tempo do Romeu, porque ele é muito espalhafatoso e eu não conseguia fazer outras coisas porque as pessoas não aceitavam. Eu estava no trânsito e, de repente, alguém gritava ‘agora morra’, ou ‘agora sai’, algum bordão dele”, contra.
No entanto, a recepção já não vem sendo a mesma quando se trata de lotar palcos. “Hoje quem lota os teatros locais são os blogueiros locais, muitos que nem são atores, mas por terem muitos seguidores nas redes sociais acabam fazendo esse sucesso. Inclusive há globais que vêm para Maceió e não lotam. E a gente que iniciou isso tudo, não estamos mais conseguindo com o mesmo movimento que antes”, conta.
A questão é que o mercado ‘desbravado’ com ‘Romeu Juli..eita??’ mudou muito também, segundo Christiano Marinho. “Hoje existe internet e rede social. Pesquisando esse mercado como produtor e empreendedor teatral, preciso entender que as pessoas querem ver outras coisas. Tanto que tenho vários segmentos de comédia que é prestação de serviço como a Kama Surta, que fala de sexo de forma livre, sem tabu e preconceito”, conta, entre outros exemplos. “E também continuo fazendo escracho, porque é despretensioso e terapêutico”, defende.